‘Tive que sentir na pele o preconceito’, diz médica sobre posição dos negros na universidade
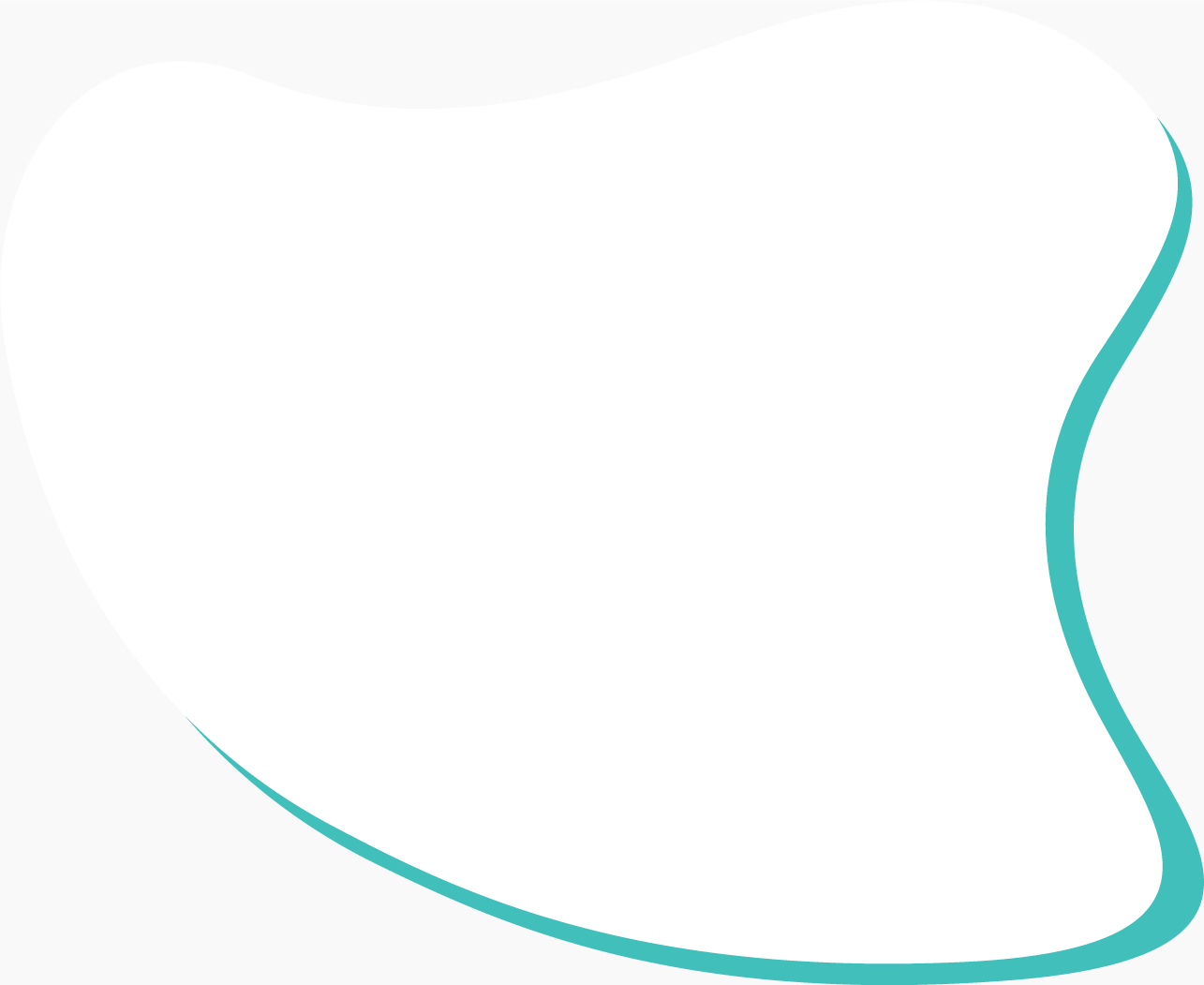



Apesar do aumento de jovens negros e pardos nas universidades, a representatividade desses estudantes nas salas de aula dos cursos superiores ainda é precária
Aos seis anos, Monique França, moradora da Cidade de Deus, na Zona Oeste carioca, levou um tapa de uma médica. Como toda criança doente e com medo de ser examinada, a pequena não queria parar quieta na unidade de saúde. Os sintomas da doença passaram, mas a dor da violência ficou marcada para sempre. Ela nunca mais esqueceu aquele dia. No entanto, o trauma foi decisivo para mudar a história de sua vida: foi na Medicina que a menina simples encontrou a felicidade, buscando ser uma pessoa melhor do que a médica que lhe atendeu quando criança. Hoje, aos 30 anos, a médica é referência na área da saúde, com especialidade em medicina de família e comunidade.
Para realizar o sonho de ser chamada de doutora, Monique – mulher negra, filha de uma empregada doméstica e de um motorista de táxi – recorreu à cota racial nas universidades, reconhecida apenas em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como constitucional. Apesar da frequência de jovens estudantes negros e pardos no ensino superior triplicar em dez anos (2001 – 2011), segundo pesquisa do IBGE, a representatividade do negro nas salas de aula dos cursos superiores ainda é precária, conforme garantem especialistas em educação.
“As cotas raciais não são o melhor remédio, são paliativas, mas precisamos delas, pois temos uma desigualdade que não é de hoje e que precisa ser reparada. Essas medidas buscam consertar processos históricos. Tivemos 350 anos de escravidão no Brasil e o negro só pôde ter acesso à educação na década de 40. Hoje, sou a favor das cotas, mas temos que investir nos ensinos fundamental e médio para que as cotas, no futuro, deixem de existir”, destaca o Cientista Social Vitor Coff Del Rey, integrante do Educafro, que milita pela inclusão dos negros nas universidades públicas.
Pesquisa mostra discrepância entre negros e brancos
Os números do IBGE revelam que a proporção de estudantes de 18 a 24 anos, de todas as etnias, que cursavam o nível superior cresceu de 27%, em 2001, para 51,3%, em 2011.
Os dados mostram também que houve uma queda expressiva na proporção dos jovens, da mesma faixa etária, que ainda estavam no ensino fundamental, passando de 21%, em 2001, para 8,1%, em 2011.
Já os jovens estudantes negros e pardos aumentaram a frequência no ensino superior (de 10,2%, em 2001, para 35,8%, em 2011), porém, com um percentual muito aquém da proporção apresentada pelos jovens brancos (de 39,6%, em 2001, para 65,7% em 2011).
Se tomarmos como premissa o fato de que mais mentes — e por mais não nos limitemos à quantidade — significa mais potência para o processo de aprendizagem, perdem todos.
Modelo de educação reflete um modelo de sociedade
Mestre em educação, Daniela Araújo, da ONG Bem TV, em Niterói, tem a mesma opinião que Vitor. Para ela, a cota é uma ferramenta mínima de tentar garantir acesso à educação e formação da população negra, mas faltam outras iniciativas. Ela ressalta ainda que só haverá equidade no longo prazo, pois a educação serve a um modelo de sociedade que, segundo Daniela, é escravocrata, o que faz com que o negro precise, hoje, se apoiar nas cotas.
“Numa situação ideal, a cota racial não seria necessária. Temos um processo histórico de negação da educação para a população negra e pobre. Eu sou da década de 1980, época na qual minha mãe não era obrigada a colocar os filhos na escola. E eu só estudei porque fui bolsista. Nós ainda não conseguimos universalizar o ensino médio. Se hoje a gente quiser colocar todos os jovens com idade escolar na escola não há vagas disponíveis”, lamenta, acrescentando que as instituições de ensino precisam se preparar melhor para receber estudantes negros e pobres.
O tapa que mudou uma vida
A história da médica Monique França é diferente de muitas outras realidades. Em vez de se frustrar com o tapa que levou e seguir por outro caminho, ela resolveu ser uma profissional da saúde cuidadosa e carinhosa. Mas Monique lembra que, para se formar, teve que enfrentar muitas barreiras, principalmente com as dificuldades financeiras com transporte, alimentação e livros para a faculdade. Mesmo assim, não pensou em desistir.
“Imagina uma negra, de família simples, sem recursos, fazendo Medicina? Só fui entender o que é isso sentindo na pele. A faculdade de Medicina é elitizada, branca. No dia a dia a gente acaba não sendo reconhecida como uma estudante de Medicina, apesar de ser. Primeiro, precisei entender qual o perfil do estudante, vencer o estereótipo. Depois, tem as dificuldades de se manter na universidade, pois todos os dias eu tinha que reafirmar para mim mesma que era uma estudante de Medicina, um desgaste mental”, recorda a doutora, que se formou em 2016, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Hoje, com mais experiência, a médica lembra que era colocada “à prova de fogo” o tempo inteiro pelos professores. Na universidade, ela destaca que o preconceito direto nunca existiu. Mas desde aquela época já questionava os motivos de ser mais cobrada do que os outros alunos.
“As perguntas para mim eram as mais bizarras. Hoje me pergunto se aquelas cobranças eram para ter uma formação de qualidade ou se eram para provar que eu podia estar lá", fala que ressalta a importância de rever a formação docente para que seja possível a construção de espaços de aprendizagem colaborativos, com professores educadores encorajando a autonomia dos estudantes na busca pelo conhecimento.
"De racismo, lembro apenas uma situação, no hospital universitário, quando um paciente, ao me ver, se recusou a ser atendido por mim. Ele me perguntou: ‘quando o médico vai chegar?’, mesmo sabendo que o atendimento era feito por mim, uma estudante de medicina”, lembra a médica, definindo sua história como vitoriosa.
Em Nova Iorque, um “gonçalense”
Quem vê o teólogo Ronilso Pacheco palestrando em conferências em Harvard e em Princeton, nos Estados Unidos, não imagina que o ex-morador de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, já passou por muitas dificuldades para chegar aonde chegou. Estudante de mestrado no Union Theological Seminary, que pertence à Universidade de Columbia, em Nova Iorque, Ronilso não participou das cotas para entrar num curso superior, mas precisou recorrer a uma bolsa interna da PUC-Rio.
Aos 42 anos e fundador do Coletivo Nuvem Negra, que nasceu a partir da necessidade de mais representatividade no espaço acadêmico, Ronilso defende que as políticas de ações afirmativas se tornaram fundamentais como medidas de reparação das desigualdades estabelecidas no Brasil em meio ao legado do colonialismo e da escravidão.
“Enfatizo as ‘políticas de ações afirmativas’ porque as ‘cotas’ são, na verdade, uma das metodologias utilizadas para que essas políticas funcionem. Elas são importantes e seus 15 anos ajudaram a mudar a cara da universidade pública brasileira. Mas as cotas não devem se resumir ao acesso de alunos negros nas instituições públicas de ensino superior. Ainda há um longo caminho para que o corpo docente destas mesmas instituições seja racialmente plural, e nossa bibliografia adotada também seja igualmente composta pela intelectualidade, os cientistas, os pensadores negros e negras preteridas da produção de saber”.
A perspectiva dos desafios da formação docente trazida por Ronilso reforça o que já foi abordado por Monique e é um ponto crucial para uma educação plural, compartilhada, centrada no estudante, com autonomia, conexão e colaboração. Levantamento realizado a partir dos dados do Inep mostra que, até 2017, cerca de 400 mil pessoas eram professores em universidades brasileiras públicas e particulares, mas somente 16% (ou pouco mais de 62 mil) se autodeclaravam pretas ou pardas. Como disse Ronilso, ainda há um caminho longo...


-
 Rodolfo Bertolini 19/08/2024
Rodolfo Bertolini 19/08/2024
Aviso Importante
-
 Alexandre Mathias 16/09/2022
Alexandre Mathias 16/09/2022Os principais pilares da estrutura educacional no ensino superior
-
 Fillip Restier 09/09/2022
Fillip Restier 09/09/20225 soluções para acelerar o crescimento da sua IES
-
 Nathalia Simonetti 26/08/2022
Nathalia Simonetti 26/08/2022O Desenvolvimento de Soft Skills como Estratégia para a Competitividade no Ensino Superior



